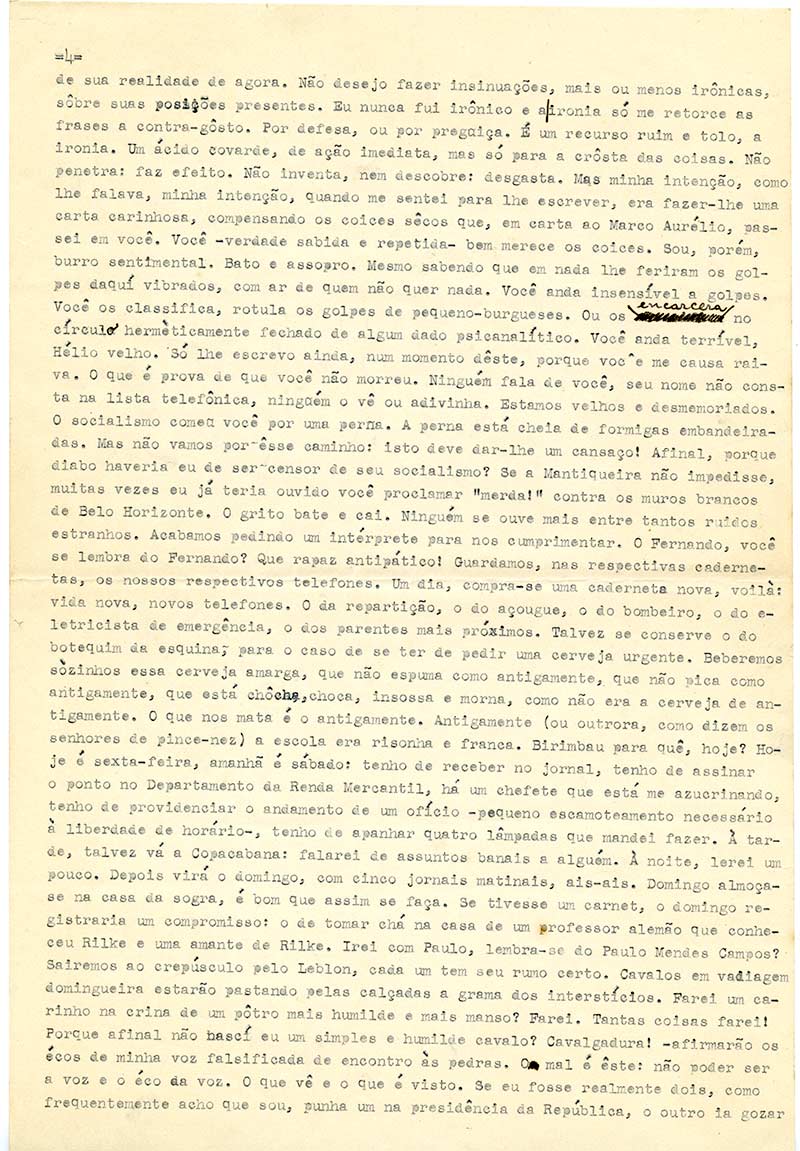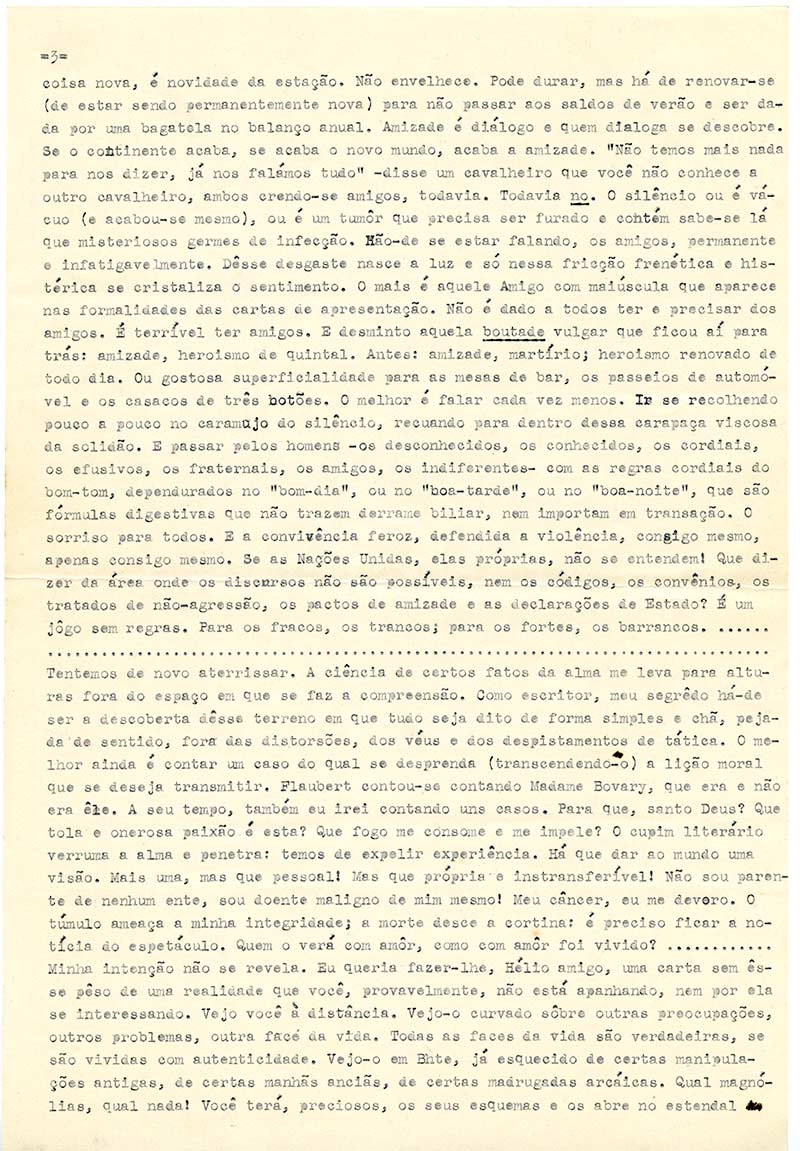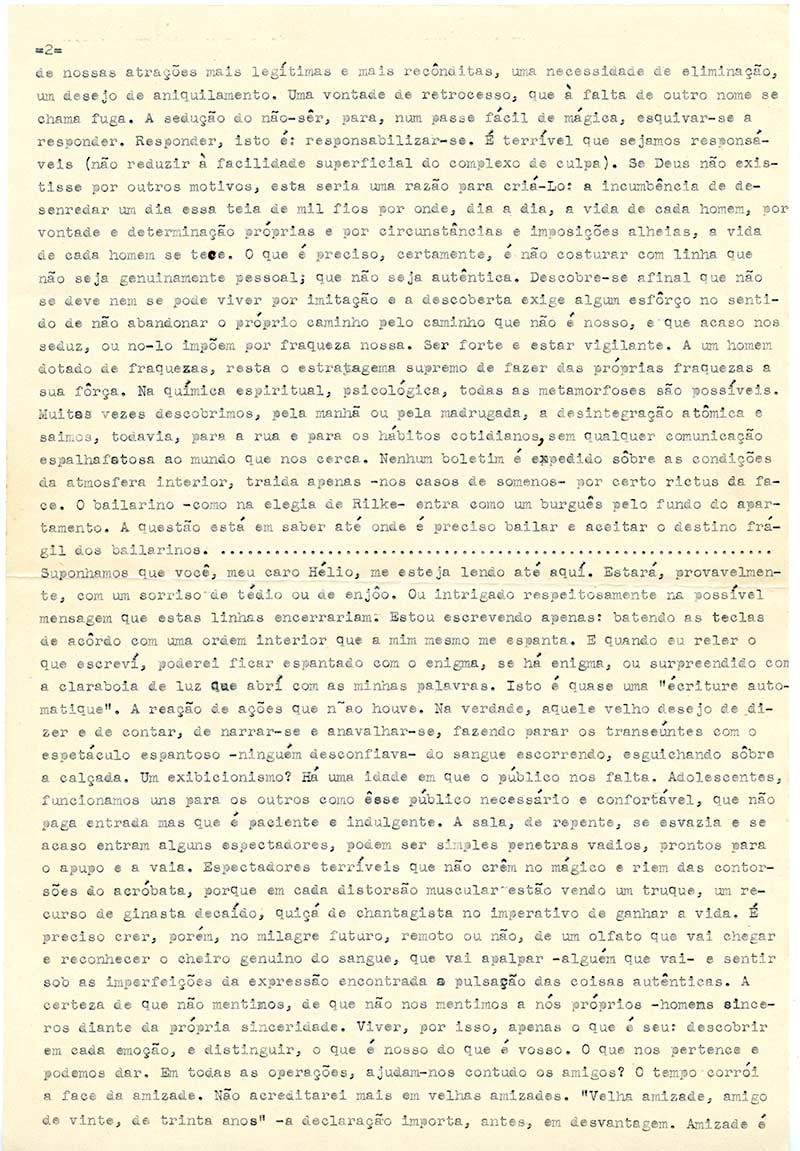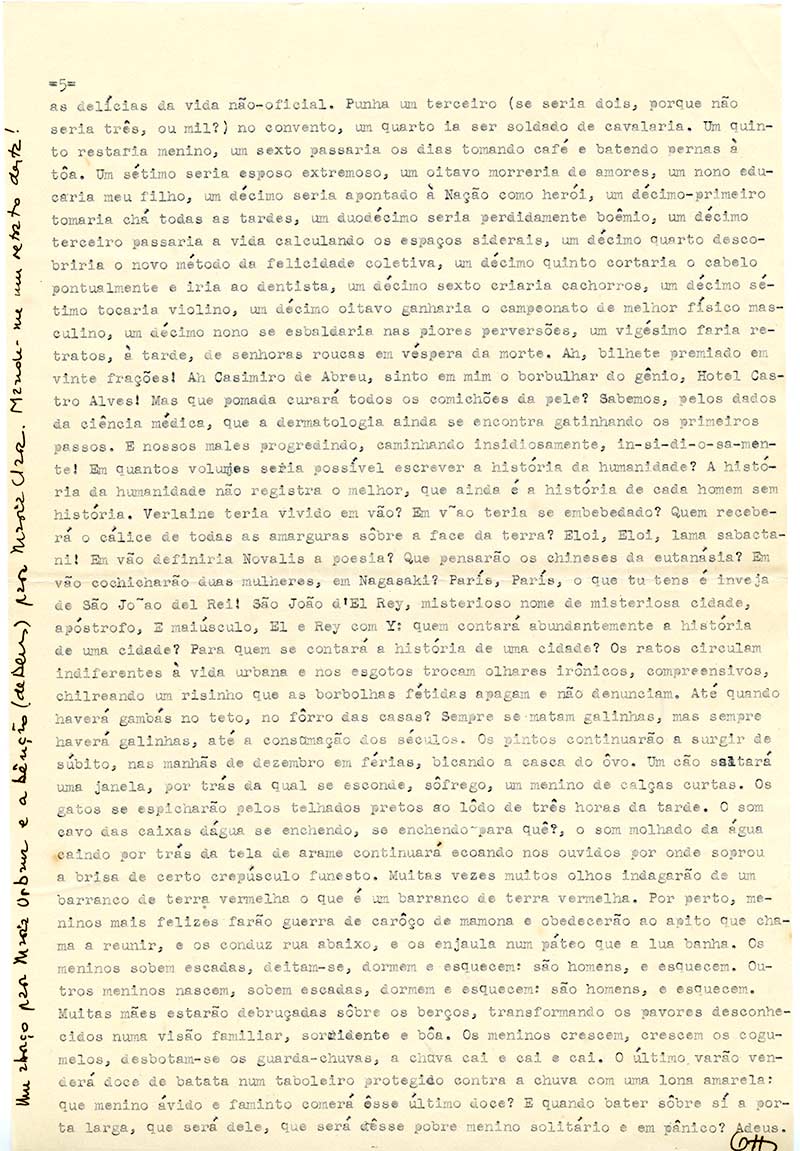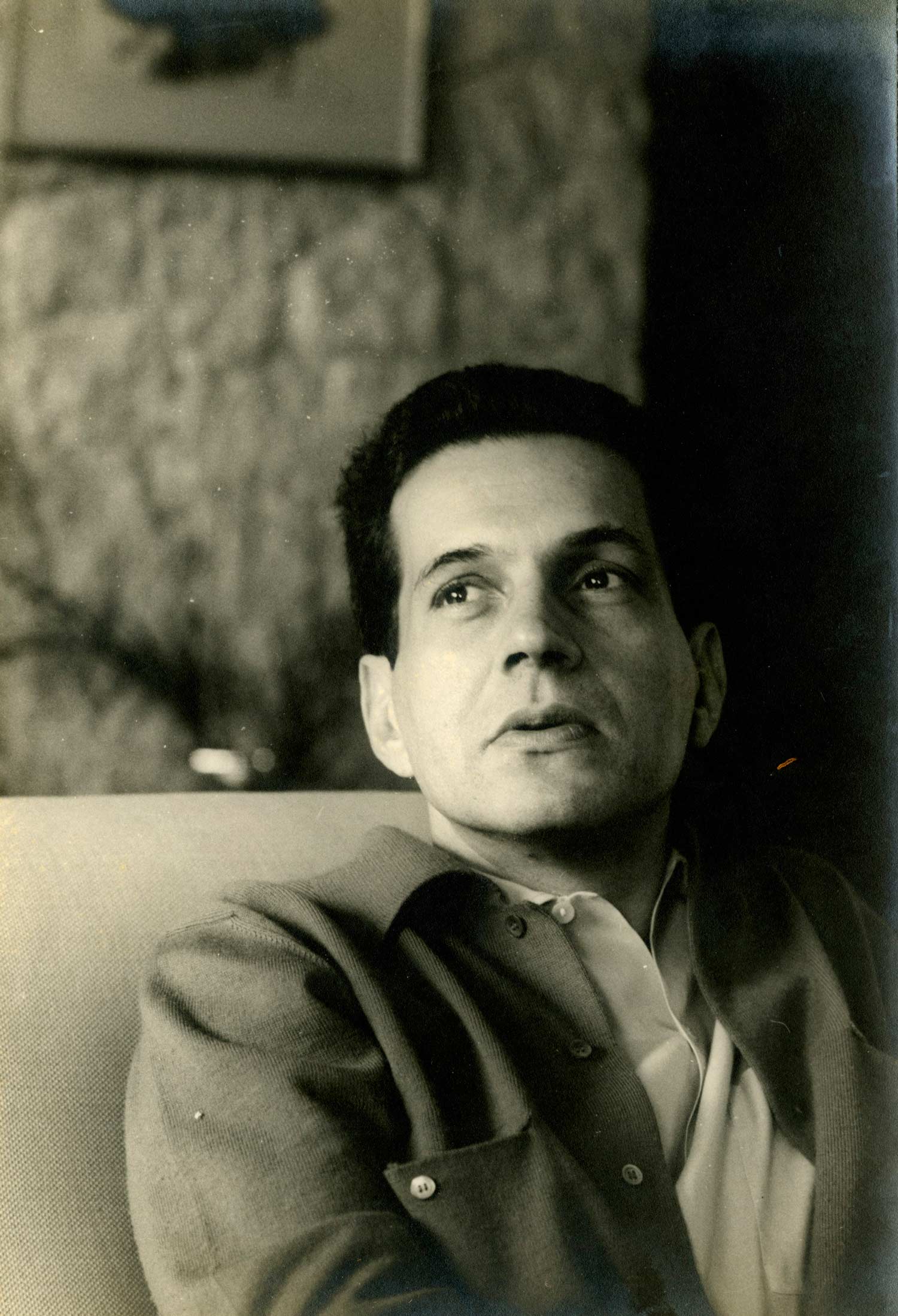Rio de Janeiro, 1º de junho de 1951
Meu caro Hélio,
Se eu não tivesse 29 anos, se não fosse quase um vetusto trintão, não teria resistido, neste momento, ao ímpeto de sentar-se à mesa para, com a minha velha caligrafia, compor um daqueles “exercícios” adolescentes que eu cria cifrados, mas que na verdade eram abertos, escancarados à confidência. A inspiração me veio genuína, impetuosa, soprando ventos de antigamente. Ventos amargos, Hélio velho. Hélio velho! Como nós envelhecemos! Como envelhece cruelmente o homem! Mas não sou propriamente um cidadão amargo. A amargura extingue – digamos que extingue – a fonte criadora. Seca a alma, resseca o coração, cresta os melhores momentos da vida. E acaba sabendo a ressentimento, o que é o mais vil e o mais indigno dos sentimentos. Mas se eu tivesse cometido o “exercício”, se tivesse confidenciado ao papel o ventinho que enrugou a minha alma, se tivesse – teria feito um ato legítimo. É bom, porém, que eu não o tenha cometido. Afinal, acabo de ouvir, aqui no quarto ao lado, o chorinho do André,[1] e um filho atribui certa gravidade à minha vida. Há uma posição que, por trêfega, não fica bem a um pai, pai de varão. Um filho funciona como um juiz. É uma testemunha dos nossos atos, um tribunal futuro a que comparecerão todas as nossas ações de homem, mesmo às escondidas, quanto mais as que se gravam e se escrevem! E um pai não pode, sem perda de dignidade, exigir que seu filho o compreenda. Compreender o pai é, para o filho, apiedar-se do pai. E você já viu situação mais impiedosa, mais cruel e terrível do que um filho que tem pena do pai? Não convém forçar os vácuos que a natureza, o destino ou a providência interpôs entre as pessoas, mesmo entre o pai e o filho. E entre os amigos. Convém à amizade que ela fique sendo apenas esse esforço inconsciente de dar-se as mãos nesse nevoeiro, de tocar-se através desse muro de vazio que nos separa uns dos outros. Estar só é, efetivamente a fatalidade do homem, e aceitar essa fatalidade, virilmente, aí, nisso deve residir a sua mais poderosa dignidade. Ser que se oferece e decifra se barateia, se desbarata, se destrói. O máximo permitido há de ser apenas o esforço em busca de expressão, que a arte, por exemplo, faculta ao homem. Inúmeras, é claro, são as formas de expressão e, por isso, nem só os artistas se exprimem. Mas todos aqueles que se completam e se reduzem (como este impressionante Napoleão Laureano,[2] que morreu ontem como um mártir). Mas falávamos da amizade, este heroísmo de quintal. Estou pessimista acerca dos amigos. Não que os ache defeituosos por serem tais e tais, ou que pudessem ser maiores e melhores. Não há pequenos e grandes amigos: há amigos apenas, que a gente não escolhe, mas que se impõem e se instalam. E, não gostando, estando trincados ou com defeito de funcionamento, não é permitido substituí-los. Não se aceitam trocas no ramo. Nem se faz amigo novo: às vezes, raramente, apenas colhemos já em meio do caminho o que esperava por nós, fruto sazonado, rebento de safras passadas. Feliz e infeliz é o homem que não tem – o que equivale a dizer que não precisa de – amigos. É como quem não necessita de lareira no inverno. Os amigos, às vezes revezando-se no duro plantão, auxiliam a suportar o inverno e, aproximando-se as almas, crepita mais alto o fogo reconfortante. Pena é que todo fogo, como toda lenha, esteja destinado a extinguir-se, e se exaure no próprio queimar-se. O que parece desmentir um mandamento de juventude: que o amor, em se dando, aumenta e se fortalece. Poderíamos falar de amor quando está em jogo a amizade? Sem temer pensamentos desviados, será melhor falar em caridade, que é – disse-o hoje um senador, em discurso – contato de almas, comércio de alma para alma. Convivência. Mas quem foi que um dia escreveu: viver é fácil, conviver é asqueroso? Ao ímpeto vital, corresponde, no universo de nossas atrações mais legítimas e mais recônditas, uma necessidade de eliminação, um desejo de aniquilamento. Uma vontade de retrocesso, que à falta de outro nome se chama fuga. A sedução do não ser, para, num passe fácil de mágica, esquivar-se a responder. Responder, isto é: responsabilizar-se. É terrível que sejamos responsáveis (não reduzir à facilidade superficial do complexo de culpa). Se Deus não existisse por outros motivos, esta seria uma razão para criá-Lo: a incumbência de desenredar um dia essa teia de mil fios por onde, dia a dia, a vida de cada homem, por vontade e determinação próprias e por circunstâncias e imposições alheias, a vida de cada homem se tece. O que é preciso, certamente, é não costurar com linha que não seja genuinamente pessoal: que não seja autêntica. Descobre-se afinal que não se deve nem se pode viver por imitação, e a descoberta exige algum esforço no sentido de não abandonar o próprio caminho pelo caminho que não é nosso, e que acaso nos seduz, ou no-lo impõem por fraqueza nossa. Ser forte e estar vigilante. A um homem dotado de fraquezas, resta o estratagema supremo de fazer das próprias fraquezas a sua força. Na química espiritual, psicológica, todas as metamorfoses são possíveis. Muitas vezes descobrimos, pela manhã ou pela madrugada, a desintegração atômica e saímos, todavia, para a rua e para os hábitos cotidianos, sem qualquer comunicação espalhafatosa ao mundo que nos cerca. Nenhum boletim é expedido sobre as condições da atmosfera anterior, traída apenas – nos casos de somenos – por certo rictus da face. O bailarino – como na elegia de Rilke[3] – entra como um burguês pelo fundo do apartamento. A questão está em saber até onde é preciso bailar e aceitar o destino frágil dos bailarinos.
Suponhamos que você, meu caro Hélio, me esteja lendo até aqui. Estará, provavelmente, com um sorriso de tédio ou de enjoo. Ou intrigado respeitosamente na possível mensagem que estas linhas encerrariam. Estou escrevendo apenas: batendo as teclas de acordo com uma ordem interior que a mim mesmo me espanta. E quando eu reler o que escrevi, poderei ficar espantado com o enigma, se há enigma, ou surpreendido com a claraboia de luz que abri com as minhas palavras. Isto é quase uma écriture automatique. A reação de ações que não houve. Na verdade, aquele velho desejo de dizer e de contar, de narrar-se e anavalhar-se, fazendo parar os transeuntes como espetáculo espantoso – ninguém desconfiava – do sangue escorrendo, esguichando sobre a calçada. Um exibicionismo? Há uma idade em o que o público nos falta. Adolescentes, funcionamos uns para os outros como esse público necessário e confortável, que não paga entrada, mas que é paciente e indulgente. A sala, de repente, se esvazia, e se acaso entram alguns espectadores, podem ser simples penetras vadios, prontos para o apupo e a vaia. Espectadores terríveis que não creem no mágico e riem das contorções do acrobata, porque em cada distorção muscular estão vendo um truque, um recurso de ginasta decaído, quiçá de chantagista no imperativo de ganhar a vida. É preciso crer, porém, no milagre futuro, remoto ou não, de um olfato que vai chegar e reconhecer o cheiro genuíno do sangue, que vai apalpar – alguém que vai – e sentir sob as imperfeições da expressão encontrada a pulsação das coisas autênticas. A certeza de que não mentimos, de que não nos mentimos a nós próprios – homens sinceros diante da própria sinceridade. Viver, por isso, apenas o que é seu: descobrir em cada emoção, e distinguir o que é nosso do que é vosso. O que nos pertence e podemos dar. Em todas as operações, ajudam-nos contudo os amigos? O tempo corrói a face da amizade. Não acreditarei mais em velhas amizades. “Velha amizade, amigo de vinte, de trinta anos” – a declaração importa, antes, em desvantagem. Amizade é coisa nova, é novidade da estação. Não envelhece. Pode durar, mas há de renovar-se (de estar sendo permanentemente nova) para não passar aos saldos de verão e ser dada por uma bagatela no balanço anual. Amizade é diálogo e quem dialoga se descobre. Se o continente acaba, se acaba o novo mundo, acaba a amizade. “Não temos mais nada para nos dizer, já nos falamos tudo” – disse um cavalheiro que você não conhece a outro cavalheiro, ambos crendo-se amigos, todavia. Todavia no. O silêncio ou é vácuo (e acabou-se mesmo), ou é um tumor que precisa ser furado e contém sabe-se lá que misteriosos germes de infecção. Hão de se estar falando, os amigos, permanente e infatigavelmente. Desse desgaste nasce a luz, e só nessa fricção frenética e histérica se cristaliza o sentimento. O mais é aquele Amigo com maiúscula que aparece nas formalidades das cartas de apresentação. Não é dado a todos ter e precisar dos amigos. É terrível ter amigos. E desminto aquela boutade[4] vulgar que ficou ai para trás: amizade, heroísmo de quintal. Antes: amizade, martírio; heroísmo renovado de todo dia. Ou gostosa superficialidade para as mesas de bar, os passeios de automóvel e os casacos de três botões. O melhor é falar cada vez menos. Ir-se recolhendo pouco a pouco no caramujo do silêncio, recuando para dentro dessa carapaça viscosa da solidão. E passar pelos homens – os desconhecidos, os conhecidos, os cordiais, os efusivos, os fraternais, os amigos, os indiferentes – com as regras cordiais do bom-tom, dependurados no “bom-dia”, ou no “boa-tarde”, ou no “boa-noite”, que são fórmulas digestivas que não trazem derrame biliar, nem importam em transação. O sorriso para todos. E a convivência feroz, defendida a violência consigo mesmo, apenas consigo mesmo. Se as Nações Unidas, elas próprias, não se entendem! Que dizer da área onde os discursos não são possíveis, nem códigos, os convênios, os tratados de não agressão, os pactos de amizade e as declarações de Estado? É um jogo sem regras. Para os fracos, os trancos; para os fortes, os barrancos.
Tentemos de novo aterrissar. A ciência de certos fatos da alma me leva para alturas fora do espaço em que se faz compreensão. Como escritor, meu segredo há de ser a descoberta desse terreno em que tudo seja dito de forma simples e chã, pejada de sentido, fora das distorções, dos véus e dos despistamentos de tática. O melhor ainda é contar um caso do qual se desprenda (transcendendo-o) a lição moral que se deseja transmitir. Flaubert contou-se contando Madame Bovary, que era e não era ele. A seu tempo, também eu irei contando uns casos. Para que, santo Deus? Que tola e onerosa paixão é esta? Que fogo me consome e me impele? O cupim literário verruma a alma e penetra: temos de expelir experiência. Há que dar ao mundo uma visão. Mais uma, mais que pessoal! Mais que própria e intransferível! Não sou parente de nenhum ente, sou doente maligno de mim mesmo! Meu câncer, eu me devoro. O túmulo ameaça a minha integridade; a morte desce a cortina; é preciso ficar a notícia do espetáculo. Quem o verá com amor, como com amor foi vivido?
Minha intenção não se revela. Eu queria fazer-lhe Hélio amigo, uma carta sem esse peso de uma realidade que você, provavelmente, não está apanhando, nem por ela se interessando. Vejo você a distância. Vejo-o curvado sobre outras preocupações, outros problemas, outra face da vida. Todas as faces da vida são verdadeiras, se são vividas com autenticidade. Vejo-o em Belo Horizonte, já esquecido de certas manipulações antigas, de certas manhãs anciãs, de madrugadas arcaicas. Qual magnólias, qual nada! Você terá, preciosos, os seus esquemas e os abre no estendal de sua realidade de agora. Não desejo fazer insinuações, mais ou menos irônicas, sobre suas posições presentes. Eu nunca fui irônico, e a ironia só me retorce as frases a contragosto. Por defesa ou por preguiça. É um recurso ruim e tolo, a ironia. Um ácido covarde, de ação imediata, mas só para a crosta das coisas. Não penetra: faz efeito. Não inventa, nem descobre: desgasta. Mas minha intenção, como lhe falava, minha intenção, quando me sentei para lhe escrever, era fazer-lhe uma carta carinhosa, compensando os coices secos que, em carta ao Marco Aurélio, passei em você. Você – verdade sabida e repetida – bem merece os coices. Sou, porém, burro sentimental. Bato e assopro. Mesmo sabendo que em nada lhe feriram os golpes daqui vibrados, com ar de quem não quer nada. Você anda insensível a golpes. Você os classifica, rotula os golpes de pequeno-burgueses. Ou os encara no círculo hermeticamente fechado de algum dado psicanalítico. Você anda terrível, Hélio velho. Só lhe escrevo ainda, num momento deste, porque você me causa raiva. O que é prova de que você não morreu. Ninguém fala de você, seu nome não consta na lista telefônica, ninguém o vê ou adivinha. Estamos velhos e desmemoriados. O socialismo comeu você por uma perna. A perna está cheia de formigas embandeiradas. Mas não vamos por esse caminho: isto deve dar-lhe um cansaço! Afinal, porque diabo haveria eu de ser censor de seu socialismo? Se a Mantiqueira não impedisse, muitas vezes eu já teria ouvido você proclamar “merda!” contra os muros brancos de Belo Horizonte. O grito bate e cai. Ninguém se ouve mais entre tantos ruídos estranhos. Acabamos pedindo um intérprete para nos cumprimentar. O Fernando, você se lembra do Fernando? Que rapaz antipático! Guardamos, nas respectivas cadernetas, os nossos respectivos telefones. Um dia, compra-se uma caderneta nova, voilà: vida nova, novos telefones. O da repartição, o do açougue, o do bombeiro, o do eletricista de emergência, o dos parentes mais próximos. Talvez se conserve o do botequim da esquina, para o caso de se ter de pedir uma cerveja urgente. Beberemos sozinhos essa cerveja amarga, que não espuma como antigamente, que não pica como antigamente, que está choca, choca, insossa e morna, como não era a cerveja de antigamente. O que nos mata é o antigamente. Antigamente (ou outrora, como dizem os senhores do pincenê) a escola era risonha e franca. Berimbau para quê, hoje? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado: tenho de receber no jornal, tenho de assinar o ponto no Departamento da Renda Mercantil, há um chefete que está me azucrinando, tenho que providenciar o andamento de um ofício – pequeno escamoteamento necessário à liberdade de horário –, tenho de apanhar quatro lâmpadas que mandei fazer. À tarde, talvez vá em Copacabana: falarei de assuntos banais a alguém. À noite, lerei um pouco. Depois virá o domingo, com cinco jornais matinais, ais-ais. Domingo almoça-se na casa da sogra, é bom que assim se faça. Se tivesse um carnê, o domingo registraria um compromisso: o de tomar chá na casa de um professor alemão que conheceu Rilke e uma amante de Rilke. Irei com Paulo, lembra-se do Paulo Mendes Campos? Sairemos ao crepúsculo pelo Leblon, cada um tem seu rumo certo. Cavalos em vadiagem domingueira estão pastando pelas calçadas a grama dos interstícios. Farei um carinho na crina de um potro mais humilde e mais manso? Farei. Tantas coisas farei! Por que afinal não naci eu um simples e humilde cavalo? Cavalgadura! – afirmarão os ecos de minha voz falsificada do encontro às pedras. O mal é este: não pode ser a voz e o eco da voz. O que vê e o que é visto. Se eu fosse realmente dois, com frequentemente acho que sou, punha um na presidência da República, o outro ia gozar as delícias da vida não oficial. Punha um terceiro (se seria dois, por que não seria três, ou mil?) no convento, um quarto ia ser soldado de cavalaria. Um quinto restaria menino, um sexto passaria os dias tomando café e batendo pernas à toa. Um sétimo seria esposo extremoso, um oitavo morreria de amores, um nono educaria meu filho, um décimo seria apontado à nação como herói, um décimo primeiro tomaria chá todas as tardes, um duodécimo seria perdidamente boêmio, um décimo terceiro passaria a vida calculando os espaços siderais, um décimo quarto descobriria o novo método da felicidade coletiva, um décimo quinto cortaria o cabelo pontualmente e iria ao dentista, um décimo sexto criaria cachorros, um décimo sétimo tocaria violino, um décimo oitavo ganharia o campeonato de melhor físico masculino, um décimo nono se esbaldaria nas piores perversões, um vigésimo faria retratos, à tarde, de senhoras roucas em véspera da morte. Ah, bilhete premiado em vinte frações! Ah! Casimiro de Abreu, sinto em mim o borbulhar do gênio, Hotel Castro Alves! Mas que pomada curará todas as comichões da pele? Sabemos, pelos dados da ciência médica, que a dermatologia ainda se encontra gatinhando os primeiros passos. E nossos males progredindo, caminhando insidiosamente, in-si-di-o-sa-men-te! Em quantos volumes seria possível escrever essa história da humanidade? A história da humanidade não registra o melhor, que ainda é a história de cada homem sem vida. Verlaine teria vivido em vão? Em vão teria se embebedado? Quem receberá o cálice de todas as amarguras sobre a face da terra? Eloí, Eloí, lama sabactani![5] Em vão viria Novalis[6] a poesia? Que pensarão os chineses da eutanásia? Em vão cochilarão duas mulheres, em Nagasaki? Paris, Paris, o que tu tens é inveja de São João del-Rei! São João d’El Rey, misterioso nome de misteriosa cidade, apóstrofo, E maiúsculo, El e Rey com Y: quem contará abundantemente a história de uma cidade? Para quem se contará a história de uma cidade? Os ratos circulam indiferentes à vida urbana e nos esgotos trocam olhares irônicos, compreensivos, chilreando um risinho que as borbolhas fétidas apagam e não denunciam. Até quando haverá gambás no teto, no forro das casas? Sempre se matam galinhas, mas sempre haverá galinhas, até a consumação dos séculos. Os pintos continuarão a surgir de súbito, nas manhãs de dezembro em férias, bicando a casca do ovo. Um cão saltará uma janela, por trás da qual se esconde, sôfrego, um menino de calças curtas. Os gatos se espicharão pelos telhados pretos ao lodo de três horas da tarde. O som cavo das caixas d’água se enchendo, se enchendo para quê?, o som molhado da água caindo por trás da tela de arame continuará ecoando nos ouvidos por onde soprou a brisa de certo crepúsculo funesto. Muitas vezes muitos olhos indagarão de um barranco de terra vermelha o que é um barranco de terra vermelha. Por perto, meninos mais felizes farão guerra de caroço de mamona e obedecerão ao apito que chama a reunir, e os conduz rua abaixo, e os enjaula num pátio que a lua banha. Os meninos sobem escadas, deitam-se, dormem e esquecem: são homens, e esquecem. Outros meninos nascem, sobrem escadas, dormem e esquecem: são homens, e esquecem. Muitas mães estarão debruçadas sobre os berços, transformando os pavores desconhecidos numa visão familiar, sorridente e boa. Os meninos crescem, crescem os cogumelos, desbotam-se os guarda-chuvas, a chuva cai e cai e cai. O último varão venderá doce de batata num tabuleiro protegido contra a chuva com uma lona amarela: que menino ávido e faminto comerá esse último doce? E quando bater sobre si a porta larga, que será dele, que será dele, que será desse pobre menino solitário e em pânico? Adeus.
Otto
P.S.: Um abraço para Maria Urbana e a bênção (de Deus) para Maria Clara. Mande-me um retrato desta.
Arquivo Otto Lara Resende / Acervo IMS.
[1] N.S.: André Pinheiro Lara Resende, nascido em 1951, primeiro dos quatro filhos de Otto e Helena Pinheiro de Lara Resende.
[2] N.S.: Médico paraibano que se dedicou ao tratamento do câncer e morreu vitimado pela doença.
[3] N.S.: Provavelmente Otto se refere aos saltimbancos da quinta elegia em Elegias de Duíno, de Rainer Maria Rilke.
[4] N.S.: Tirada espirituosa ou engraçada.
[5] N.S.: Eloí, Eloí, lama sabactani, em aramaico, significa “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste”. Está no capítulo 15, versículo 34, de São Marcos, e é uma das sete palavras que Cristo teria proferido na cruz.
[6] N.S.: Pseudônimo do filósofo do Romantismo alemão Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg (1772-1801).