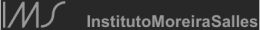Se considerarmos a rapidez da nossa comunicação diária, a escrita de cartas pode à primeira vista parecer uma prática obsoleta. No entanto, ao observar como diferentes produções literárias contemporâneas retomam as cartas como parte de seus suportes, percebemos nelas um fazer atemporal e em constante expansão. Muitos líderes, artistas, professores, estudantes e escritores indígenas fazem uso dessa perenidade das cartas. Alguns se tornaram documentos políticos, outros exploram suas formas literárias, e muitos seguem impulsionando complexas e ativas conversas a partir delas.
Cartas abertas, cartas-filmes, cartas-manifestos, cartas pessoais, cartas-instalações e outras formas de montagem e remontagem do gênero surgem quando pessoas indígenas decidem escrever uma carta. Esses usos múltiplos aparecem, por exemplo, nas cartas escritas por Davi Kopenawa no início dos anos 2000, em nome dos Yanomami, solicitando aos Procuradores da República a devolução do sangue de seu povo, armazenado “nas geladeiras dos Estados Unidos”. Também estão presentes nas cartas de Mário Juruna, durante a Ditadura Militar, nas quais questionava, em seu próprio nome, a tutela imposta aos indígenas ou solicitava autorizações para sair do Brasil. Da escrita em nome próprio com a assinatura do povo ao registro da própria autoria em defesa do coletivo, esses outros usos também contemplam um significativo número de cartas produzidas coletivamente e assinadas por todos, mas com a entrada de um eu-íntimo na narrativa.
É o caso das correspondências do Povo Munduruku, que, narrando de forma mítica o processo de autodemarcação de suas terras, construiu um laudo antropológico próprio para reivindicar a demarcação de seus territórios, à revelia do Estado brasileiro. Uma mostra desse fazer que entrecruza coletivo e indivíduo, pessoa e cultura, povo e Estado, está na Carta de autodemarcação III, mais precisamente no modo como Orlando Borô Munduruku aparece e desaparece em frestas da memória ancestral do povo e no presente dos lugares pelos quais passaram os Munduruku. Diz Orlando:
Quando nós passamos onde porcos passaram, eu vi, eu tive uma visão deles passando. Eu tenho 30 anos. Quando eu era criança minha mãe me contou a história dos porcos. É por isso que devemos defender nossa mãe terra. As pessoas devem respeitar também. Todas as pessoas devem respeitar porque a história está viva ainda, estamos aqui, somos nós.
Mais recentemente, pode-se perceber como artistas indígenas têm incorporado o formato de carta em suas criações visuais, reconfigurando-o nas artes, como no caso da Carta ao Velho Mundo, projetada por Jaider Esbell e exposta na 34ª Bienal de São Paulo, ou na performance da carta-cobra, realizada pela artista Daiara Tukano durante as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo.
Obra Carta-Cobra, Daiara Tukano, 2022. Fonte: www.daiaratukano.com.br
Essa expansão da escrita de uma carta se reflete também no modo como a interlocução é estabelecida entre os indígenas. Nas cartas abertas, de repúdio, de denúncia ou de outras formas de manifesto, amplamente divulgadas em redes sociais e portais de notícias, percebe-se que, muitas vezes, não há um destinatário específico, todavia no centro da discussão estão o Brasil e os brasileiros como vocativos da conversação. Por outro lado, há correspondências destinadas nominalmente aos presidentes da República e a outras autoridades públicas, que criam um modo próximo, muitas vezes íntimo, de conversar com figuras públicas distantes ou mesmo ausentes, tanto dos modos de vida dos indígenas quanto da ideia de intimidade que o ato da escrita de uma carta pressupõe. Desde o início dos anos 1970, os indígenas vêm utilizando as cartas de forma crescente, seja nos primeiros escritos de Andila Inácio, em nome do povo Kaingang, para o ditador Ernesto Geisel, seja nas cartas dos Tuxuas de Roraima à presidência da FUNAI, até chegarmos às manifestações como a carta das mães Terena para a presidenta Dilma, em 2013:
hoje estamos de luto pela vida de nosso filho Oziel e temerosas por nós e todos os nossos outros filhos que neste momento cumprem seu dever como Guerreiros Terenas (…) Nas palavras de nossa anciã Naty Senó (mulher forte): “Mãe branca não é igual a mãe indígena? Não tem sentimentos? Quando sabemos que nosso filho quer agredir alguém nós o aconselhamos e corrigimos, dizemos: Não faça isso porque não é bom! Será que a mãe branca não é assim? Não tem sentimento como a gente tem?” Esperamos que a senhora, mãe da nação, se sensibilize com o sofrimento de seus filhos e filhas e resolva a questão antes que mais sangue seja derramado, pois é a única com esse poder em mãos.
São cinquenta anos de escrita de cartas sobre os modos de morrer e de viver sendo indígenas no Brasil, como muito bem defendeu Rafael Xucuru em sua tese de doutorado. Nesse tempo, com exceção das cartas trocadas entre os próprios indígenas, é possível afirmar que há um número extremamente reduzido de cartas com endereço específico que obteve respostas dos seus destinatários. Menor ainda é o número de cartas que, lançadas como manifestos públicos, alcançaram alguma repercussão nacional, algum tipo de interlocução ou mesmo algum informe de recebimento. Estamos falando de mais de mil correspondências, escritas entre 1970 e 2025, que podem ser vistas como um longo inventário de cartas enviadas, mas nunca respondidas. Muitas delas jamais integraram grandes estudos históricos ou literários no Brasil e, quando conseguem alguma visibilidade fora dos circuitos dos próprios povos, ainda têm sua autoria questionada, como se não pudessem ter sido escritas por pessoas indígenas.
A única carta aberta que causou grande comoção nacional e que criou uma série de respostas também abertas aos escritos coletivos dos indígenas foi a carta com o anúncio de suicídio coletivo, escrita em 2012 pelos Guarani Kaiowá e endereçada ao Brasil.Com a força da divulgação da carta nas redes sociais, foi possível compreender de perto o que acontece quando os indígenas decidem escrever uma carta. Nela, o povo das comunidades PyelitoKue/Mbarakay pedia pela própria dizimação e extinção total:
além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos juízes federais. Decretem a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de PyelitoKue/Mbarakay e enterrem-nos aqui.
Expulsos mais uma vez de suas terras por uma liminar judicial, o povo indagava perplexo:
A quem vamos denunciar as violências praticadas contra nossas vidas? Para qual Justiça do Brasil, se a própria Justiça Federal está gerando e alimentando violências contra nós?
Suas palavras alimentaram a campanha de repercussão internacional “Somos todos Guarani Kaiowá”, o que gerou um longo debate sobre a situação das terras e das pessoas indígenas no nosso país. Muitos passaram a discutir pela primeira vez a situação de seus concidadãos indígenas, o impacto da carta no cenário nacional, o modo como foi escrita e, como sempre ocorre quando estamos diante do nosso outro radical, se a autoria era mesmo dos Guarani Kaiowá. O que poucos sabiam, e que ignoram até hoje, é que escrever cartas é parte significativa dos muitos atos políticos, culturais e estéticos criados pelos próprios indígenas em defesa das suas vidas ao longo da história do Brasil.
O documento mais antigo que conhecemos até então, escrito por um indígena, é uma carta datada de 1631. Assinada por Pedro Poty, indígena do povo Potiguar, e escrita em holandês, a missiva retrata o contexto de guerra entre indígenas e europeus no século XVII. Pedro também fez parte da primeira troca de correspondência entre indígenas que se tem conhecimento na história do Brasil – as chamadas Cartas Tupi, envolvendo Felipe Camarão, Diogo Pinheiro Camarão, Diogo da Costa, Simão Soares, Antonio Paraupaba, dentre outros. Essas cartas foram encontradas em 1885 nos arquivos da Biblioteca Nacional dos Países Baixos, com sede em Haia, e ganharam recentes traduções do professor Eduardo Navarro e das professoras Ruth Monserrat, Cândida Barros e Bartira Ferraz Barbosa. Em 2023, em novas pesquisas no mesmo arquivo, encontramos uma carta inédita escrita em holandês pelo indígena Antonio Paraupaba para Joahn de Witt, pedindo permissão para escrever, em 1654, para sua esposa Paulina Paraupaba.
Carta de Antonio Paraupaba, 1654. Arquivo Nacional da Haia, 3.01.17, número 2885, imagem 0002.
Uma carta repleta de referências históricas sobre o trânsito de indígenas entre o Caribe, o Brasil e a Europa, da qual é também possível inferir tanto os usos da escrita pelos indígenas no período quanto suas práticas de comunicação. A tradução da carta foi feita pelo professor Bruno Miranda, que também produziu em coautoria conosco um artigo sobre o conteúdo da missiva, a participação indígena nas guerras do açúcar e a escrita de indígenas no século XVII. Contrariando a ideia de que os indígenas no Brasil não participavam da cultura letrada de determinados momentos históricos, o estudo dessa correspondência nos coloca diante de uma nova perspectiva histórica, possibilitando a formulação de outras perguntas e a descoberta de diferentes respostas sobre a presença indígena no país.
Há mais de uma década, estudamos como essa outra perspectiva advinda dos modos autorais de escrever dos indígenas pode construir um novo imaginário sobre esses povos no Brasil. O projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, iniciado em 2013, foi produzido justamente para termos um espaço mais amplo de divulgação e visibilidade desse fazer. No portal cartasindigenasaobrasil.com.br é possível acessar na íntegra, além das cartas que listamos como exemplos aqui, todas as mais de mil correspondências escritas pelos indígenas. Também há no site seções dedicadas à biografia dos remetentes, suas cartas individuais, a autoria coletiva de grupos indígenas, os principais temas abordados, os destinatários das cartas e uma série de artigos que discutem a escrita epistolar dos indígenas no Brasil. Trabalhamos na atualização do material presente no site, coletando cartas de outros tempos históricos, bem como produzindo pesquisas etnográficas sobre os modos de composição dessas escritas. Um dos objetivos do projeto é apresentar essas correspondências como as novas cartas do Brasil, explorando o que significa esse outro imaginário e a própria ideia de ‘novo’ que emerge dos Brasis construídos e projetados pelos indígenas.
Referências
Navarro, E.A. 2022. Transcrição e tradução integral anotada das cartas dos índios Camarões, escritas em 1645 em tupi antigo: https://www.scielo.br/j/bgoeldi/a/vy7RnrNvd5B4rrCCX6vVx4d/
Miranda, B. F.; Costa, S.; Xucuru-Kariri, R. 2025. Um escrito inédito do indígena Antônio Paraupaba e o ocaso das relações Potiguara-neerlandesas (1654-1656): https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/225613
Monserrat, R.; Barro, C.; Barbosa, B. 2020. Um escrito tupi do capitão Soares Parayba (1645): https://journals.openedition.org/corpusarchivos/4218.